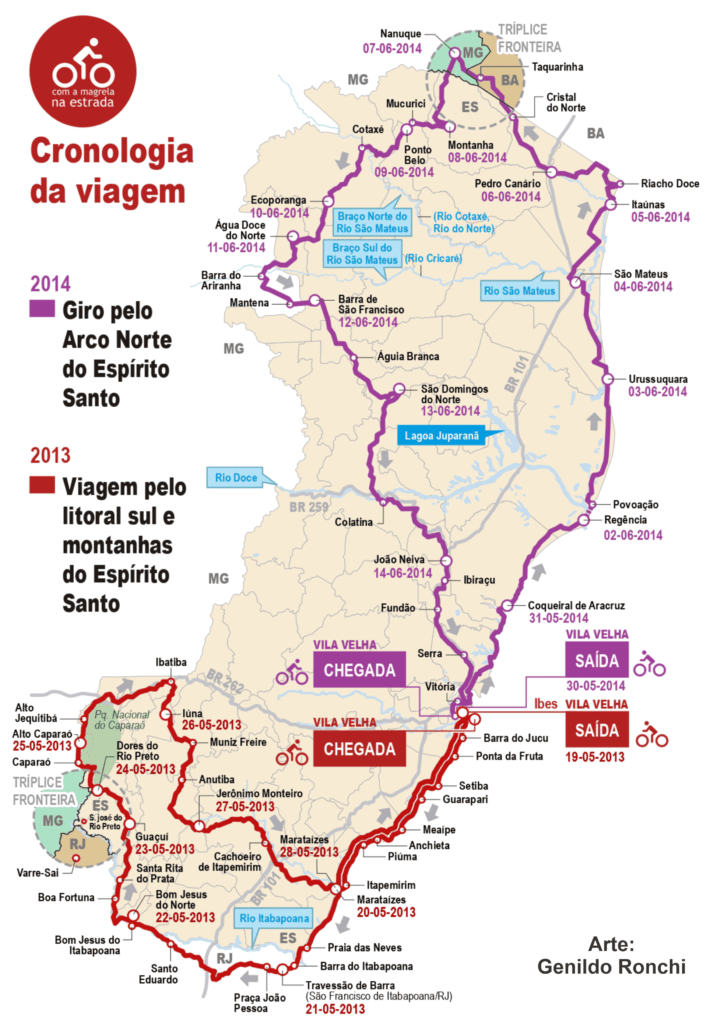
O caso do ocaso
Em verdade, em verdade, devo confessar que atribuo ao acaso, vez ou outra, certos méritos que não são exatamente dele.
Talvez faça isso com a intenção de retribuir os benefícios que recebo.
Ou pra esconder minha acintosa inaptidão com coisas de planejamento.
Ou até mesmo como (precário) recurso literário.
Não sei.
O que sei é que o meu relacionamento com o acaso tem sido muito bom e proveitoso.
E por eu ser um cara, talvez, brindado pela sorte, ele, o inesperado, tem me proporcionado muito mais alegrias que aborrecimentos.
Além de tudo isso, eu penso o seguinte: você, competente e premiado profissional de planejamento, caso resolva sair de bicicleta sozinho pelo mundo, procure manter um convívio amistoso com o acaso:
você vai precisar da contribuição dele.
Não tenha dúvida.
Por isso, dou o devido crédito ao incerto sempre que faço esses relatos de viagem.
E até – confesso – credito, aqui e ali, um pouquinho mais do que lhe é de direito.
É o caso desse ocaso – que chamei de ocasional – com que fui recebido em Ecoporanga (depois de tantos anos).
Em verdade não foi só o acaso que me ofereceu a oportunidade de estar ali naquela hora de lenta agonia.
O que aconteceu foi o seguinte:
Quando percebi que me aproximava da minha cidade, comecei a procurar meio ansioso a Pedra da Igrejinha.
(Entre parênteses, uma informação meio parentesca:
diz a lenda familiar que uma das primeiras iniciativas coletivas da nascente comunidade que se formava ali – às margens do rio Dois de setembro – foi a construção de uma pequena capela no cocuruto da pedra pontiaguda que estava fadada a ser o marco – e a marca – daquela vilazinha noviça: resolveram erguer no alto da montanha, bem lá na crista, a bandeira da sua obstinação cristã: uma igrejinha.
Por transporte pedestre, não havia outro jeito, chegou até o cocuruto daquele montanhoso cone de granito toda a necessária alvenaria – em longa e sinuosa romaria.
Os topônimos que identificam essa montanha icônica vêm sendo, desde então, alterados por circunstâncias e gerações.
Muitos apelidos já lhe foram atribuídos.
Mas penso que se não for de Pedra da Igrejinha, nome – sonoro e poético – que recebeu na infância da cidade, ela deve ser chamada, mesmo, é de Pedra de Ecoporanga, que é o que ela é).
Pois bem, só quando consegui distinguir inteira sua pontiaguda configuração mineral, constatei o que estava pra acontecer:
o sol ia se pôr agora, ali, por entre as fraldas de granito daquela montanha que singulariza o entardecer ecoporanguense.
Fiquei com muita vontade de ver esse crepúsculo na íntegra.
Pra isso acelerei, de pronto, o ritmo das pedaladas: sabia exatamente a que lugar da desigual topografia da cidade eu teria que chegar pra ver (e fotografar) uma paisagem que tenho guardada na memória, na história, no coração.
Disparei.
O tempo que eu tinha pra chegar lá era muito pequeno: quase nada!
E se eu não conseguisse?
Quando é que aconteceria outro pôr do sol como aquele, comigo ali? Nunca mais?!
Acho que nem tive tempo pra pensar nisso enquanto voava veloz ao vento vespertino.
O que eu queria alegremente naquele voo rasante, era chegar de frente pro sol poente, posicionar a magrela naquele lusco-fusco, fazer o registro do flagrante fugaz e depois, relaxado, me embriagar de infância.
Consegui!

(Mas, em verdade, é bom que se diga:
embora o acaso, claro, tenha prestado sua costumeira contribuição, o sucesso daquela arrancada tardia e solitária, na reta de chegada a Ecoporanga, tem que ser creditado mesmo é ao velho conhecimento que tenho da topografia da cidade, à veterana musculatura das pernas e, principalmente, a uma energia juvenil que saltou da alma e nos convenceu – a mim e a ela, magrela – de que voar, alguma vez, é preciso.)

Gilson Soares é poeta.
A Editora Cândida acaba de lançar mais um livro deste escritor: Cem palavras. Uma seleção dos textos publicados em sua coluna semanal nas páginas virtuais desta Editora. O livro pode ser adquirido na loja virtual: https://loja.editoracandida.com.br/
